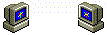sábado, 20 de dezembro de 2025
Habbo Hotel
Sempre fui apaixonada por MMOs ("Massively Multiplayer Online" ou "Multijogador Online em Massa"), mas nunca tinha encontrado algum que fosse realmente a minha cara, um lugar digital ao qual eu pertencesse.
Havia uma série de mini jogos oficiais que tornavam o jogo muito especial. Isso na época em que o jogo rodava através da plataforma Adobe Shockwave, ou seja, antes de 2009.
- BattleBall: competição de equipes para colorir quadrados no chão, contando com habilidades especiais. [📽️]
- SnowStorm: batalha de neve em equipes, envolvendo obstáculos e estratégias. [📽️]
- WobbleSquabble: jogo de equilíbrio em boia, cujo objetivo é desequilibrar o adversário sem perder o próprio equilíbrio. [📽️]
- Trampolim: funcionalidade de saltar de um trampolim nas alturas, mantendo ritmo e precisão enquanto faz manobras em queda livre. [📽️]
- Trax Machine: ferramenta de criação musical, para compor e compartilhar músicas. [📽️] Inclusive, você pode ouvir as músicas trax que eu criei, clicando aqui [🎷🎧] ou até mesmo criar as suas próprias músicas trax [🎨🎼]!
- Câmera: dispositivo que capturava momentos em formato de foto (mobi de parede) em estilo sépia.
A melhor parte do dia era chegar da escola e correr para o computador para poder mergulhar no mundo de pixels, à época muito mais interessante que a vida real. Um lugar onde para conhecer pessoas, fazer novos amigos, montar quartos, participar de competições, enfim... Ter uma vida social ativa, muito mais divertida e mais segura do que a vida real, um recanto virtual longe do bullying e da desmotivação que eu vivia diariamente na escola pública. Habbo Hotel era, acima de tudo, um mundo à parte que valia a pena ser vivido.
Fora esse lado das amizades, o aspecto social do Habbo me serviu de simulador para que eu pudesse desenvolver minhas próprias habilidades sociais. Na vida real, eu era apenas uma nerd introvertida; no mundo virtual do Habbo, eu podia ser algo além: o que eu quisesse, o que eu conseguisse... Eu poderia ser eu mesma, ou a versão que eu inventasse de mim. Assim, de 2007 a 2012, tive uma intensa vida social online, em que aprendi a socializar, conversar, negociar, discutir, respeitar e nutrir amizades. Desenvolvi habilidades sociais que utilizo na vida real até hoje. Nesse sentido, não é um completo exagero afirmar que a minha vida não foi a mesma depois do Habbo Hotel. Sou grata à comunidade da época de ouro por ter me possibilitado crescer como pessoa.
Contudo, em termos de decisões empresariais que foram "tiros no pé", um dos pontos mais revoltantes (pra comunidade) foi o enfraquecimento do modelo “humano” de hotel vivo. Sobre a Staff, aqui vai uma recapitulação organizada — pra não poluir o fluxo do texto:
O Habbo Hotel, um jogo que fez parte da infância e adolescência de muita gente, marcou gerações. A versão brasileira do Habbo Hotel foi lançada em 2006 e bateu recordes de usuários, com mais de 69.000 jogadores online em um único momento.
No entanto, ao longo dos anos, a Sulake, a empresa por trás do jogo, começou a tomar decisões que desagradaram os jogadores. Mudanças nas políticas de moderação e a remoção de administradores e moderadores humanos levaram a problemas de segurança e abuso no jogo. Além disso, o jogo enfrentou desafios relacionados à economia interna, inflação e a presença de agências de trabalho que muitas vezes envolviam esquemas fraudulentos.
A partir de 2011, a Sulake fez mudanças questionáveis, como o aumento das taxas. A comunidade tentou protestar, mas as mudanças continuaram. A empresa concentrou seus esforços em monetizar [ainda mais] o jogo, o que afetou a experiência dos jogadores negativamente.
Em 2012, um escândalo envolvendo a segurança de crianças no jogo atraiu atenção negativa da mídia. Isso afetou a reputação do Habbo Hotel e levou a perdas significativas de jogadores.
Ainda dentro do tema "economia interna", essa é outra coisa que a Sulake conseguiu estragar. Antigamente, havia uma primorosa economia de raros: eles eram muito difíceis de conseguir. Ser capaz de comprar, trocar ou vender um raro era uma conquista digna de comemoração. Muita gente fez sua riqueza em cima disso, montando coleções impressionantes ou lojas prestigiosas dentro do jogo. Hoje em dia, por outro lado, a economia de raros reflete a abordagem comercializada da Sulake, que se importa muito mais com quanto dinheiro entra em conta do que com o quão especiais são os raros. Não há mais aquela noção de algo exclusivo, de prestígio; os raros deixaram de ser raridade e se tornaram, simplesmente, mobílias de pura ostentação: muito caros, mas não necessariamente algo escasso. Isso também vale para os emblemas, que antigamente eram super especiais, enquanto hoje em dia não se pode dizer o mesmo.
Agora entramos num capítulo à parte. Imaginem a minha surpresa, lá por meados de 2009, quando descobri que seria possível usufruir de todas as coisas pagas do Habbo sem gastar um centavo.
Quando joguei pela primeira vez um Habbo Pirata (HP), um mundo se abriu diante dos meus olhos.
Lembro-me até hoje de ficar maravilhada com o fato de poder comprar o que eu quiser do catálogo, construir e decorar o que viesse à minha imaginação.
Assim como em The Sims, a minha parte favorita no Habbo sempre foi me expressar através da decoração.
Com os HPs, eu podia finalmente dar asas à minha imaginação, sem ter de gastar dinheiro real para que isso se tornasse realidade.
Os Habbo Piratas nada mais são do que servidores clandestinos do Habbo, com a importante ressalva de que as moedas são gratuitas, o que faz toda a diferença.
Todo aquele aspecto capitalista do Habbo original cai por terra.
Ainda há, nos HPs, a economia de raros, bem como eventos e promoções que dão recompensas dentro do jogo, mas tudo isso sem fazer com que a diversão gire em torno do lucro da empresa que é proprietária do hotel.
Por mais questionável que seja o aspecto legal da pirataria envolvida, o fato é que os Habbo Piratas permitem que TODOS os jogadores aproveitem as funcionalidades do jogo, não apenas aqueles jogadores que têm condições financeiras para arcar com os gastos em um jogo online.
Ou seja, enquanto no aspecto jurídico os HPs são questionáveis, no aspecto ético, psicológico e social, eles dão de dez a zero no Habbo original, que sempre foi e continuará sendo mercenário por natureza.
Essa vantagem de poder usufruir do Habbo Hotel sem gastar dinheiro fez com que os Habbo Piratas sempre fossem um tanto populares, desde a época de ouro até os dias de hoje.
No Orkut, havia comunidades gigantescas dedicadas a Habbo Pirata.
Por coincidência ou não, eu tive o privilégio de ser moderadora da maior delas, que tinha mais de 65 mil membros, e também da maravilhosa HPCS (que ensinava a criar o seu próprio HP), com quase 22 mil membros.
(O print abaixo mostra essa comunidade maior lá por meados de 2011, numa versão mais atualizada do Orkut.)
Foi uma época sensacional, o ápice do ápice, em que fiz a maior parte dos meus amigos virtuais e em que mais me diverti.
A época dos HPs foi tão especial para mim que, em 2016, anos após eu já ter parado de jogar Habbo, voltei a compor a Equipe Staff de um Habbo Pirata chamado Bobba Hotel, junto ao Vitor V. e ao Igor L., que, assim como eu, nutrem até hoje a nostalgia de pixels em seus corações. Com as suas habilidades incríveis, esses dois amigos programadores conseguiram produzir, em 2018, uma versão do jogo muito melhor que a do hotel original. Porém, como tudo que é bom dura pouco, eventualmente acabamos fechando esse hotel também, deixando um legado de boas memórias.
Em 2021, conheci um HP gringo chamado Classic Habbo, criado por um programador bastante antipático, porém profundamente talentoso chamado Alex / Quackster. Apesar de não ser brasileiro, esse hotel era tão fiel à nostalgia (com uma versão do jogo perfeitamente clássica, algo que já não existia mais no original há muitos anos) que abrigava jogadores do mundo inteiro, inclusive vários brasileiros. Em nome da nostalgia, acabei me apegando a esse hotel, jogando-o esporadicamente, alimentando a minha criança interior. Infelizmente, em 2022, o indigesto Alex resolveu dar fim a esse projeto, que durou quatro anos, dizendo: "A verdade é que nunca quis gerenciar um hotel, este originalmente abriu como um hotel de teste para o meu emulador chamado Havana. É hora de dizer adeus." E, com isso, morreu esse grandioso projeto de revitalização da memória do Habbo clássico.
Por sorte, nem tudo está perdido. Existe um site muito antigo, em pé até hoje, chamado Find Retros, que mostra os Habbo Piratas que ainda estão online, classificando do mais votado para o menos votado. Não por coincidência, o HP mais votado atualmente (em Nov/23) é o Habboon, que foi criado em 2013 e, desde então, vem se revelando como o HP moderno de melhor qualidade da atualidade.
Antes de escrever essa análise, abri um formulário para entrevistar pessoas aleatórias que jogaram Habbo na época de ouro. 100% dos entrevistados concordam que "hoje em dia o Habbo é uma distante sombra do que já foi". Viu como não é apenas a minha opinião, mas o consenso geral? Além disso, do total de entrevistados, 77,8% afirmam que o que tornava o Habbo clássico tão especial eram os jogadores, os mini jogos e os emblemas; essa mesma porcentagem dos entrevistados afirma que o Habbo entrou em declínio por aqueles três motivos já mencionados: a demissão dos gerentes humanos, o fim do Flash Player e a ganância da Sulake por lucro a qualquer custo.
Para fechar com chave de ouro, deixo aqui alguns dos melhores comentários desses entrevistados, que expressam tudo o que o Habbo representou para nós na infância e o quanto o jogo se perdeu.
O Habbo também teve um impacto importante no processo de autoaceitação da minha sexualidade. Lá, eu podia ser quem eu quisesse, sem os julgamentos e limitações do mundo físico. Assim, tive o privilégio de encontrar, no Habbo Hotel, um refúgio virtual onde eu podia ser verdadeiramente eu: um adolescente que estava se descobrindo e se aceitando.
Até mesmo a escolha de Curitiba (PR) como a cidade na qual eu fui morar para fazer faculdade foi influenciada fortemente pelo Habbo. Não há como contar essa história sem mencionar os inúmeros amigos que fiz ao longo dessa jornada. Eles me ensinaram qual é o verdadeiro valor da amizade, que deve ser sempre baseada no respeito, na aceitação e no acolhimento. Na maior parte do tempo, esses amigos "virtuais" construíram conexões muito mais verdadeiras do que aqueles que conheci na vida real. Isso mostra que não podemos subestimar o poder da internet.
Ao fim, fica evidente que o Habbo Hotel foi muito mais do que um jogo. Foi um capítulo fundamental na minha história. Através dele, desenvolvi habilidades sociais, aprendi a me aceitar e a fazer amizades genuínas. Aprendi linguagens de web design, que utilizo até hoje aqui no blog, e, enfim, encontrei direções para a vida real. Esse universo virtual de pixels não só foi um marco na minha adolescência, como também me ajudou a construir os alicerces para quem sou hoje. Por tudo isso, sou eternamente grata, e tenho apenas a lastimar o declínio de um jogo que, um dia, foi tão especial.

(Considerando apenas o Habbo clássico e os HPs)
domingo, 19 de outubro de 2025
Alice Greenfingers
Lá nos meus anos de infância, tinha um joguinho que eu e minha irmã – três anos mais nova que eu – simplesmente não conseguíamos largar no computador de tubo lá de casa: Alice Greenfingers. Descobrimos ele meio sem querer, talvez num site de joguinhos grátis. Era um jogo bobo, todo coloridinho, leve, simples até dizer chega. E talvez por isso mesmo… tão impossível de largar.
Você começava com um pedacinho de terra e plantava flores, cenouras, tomates. Usava uma pá pra cavar, um baldinho pra regar, colhia na hora certa e levava tudo até uma barraquinha de vendas. Não tinha história, não tinha personagens memoráveis, nem música marcante – a musiquinha era extremamente repetitiva, se não me engano. Mas os sons... ah, os sons. Até hoje, se eu fecho os olhos, ainda ouço aquele "clac" perfeito da colheita, o som da terra molhada sendo regada, o barulhinho seco da pá afundando no solo. Os barulhinhos da barraquinha de vendas. Era quase como um ASMR, antes mesmo de esse termo existir.
Apesar de bem rudimentar, Alice Greenfingers era surpreendentemente funcional. Os gráficos eram simples, mas tudo ali era limpo, claro, organizado. A interface funcionava, ponto. Nada travava, nada bugava, tudo fluía com uma clareza quase pedagógica. A sequência, Alice Greenfingers 2, lançada em 2008, seguia o mesmo caminho, só que ainda mais serena – como se o jogo soubesse que a gente não queria correria, nem metas difíceis, nem competição. Só cuidar de uma hortinha com calma e, sei lá, deixar o mundo lá fora um pouquinho em suspenso.
Hoje é fácil ver que ele fazia parte dessa linhagem de jogos de fazenda, como Harvest Moon ou Stardew Valley. Mas ao contrário deles, Alice não tentava simular uma vida rural complexa. Não tinha casamento, nem amizades, nem mineração, nem mapas extensos pra explorar. Só terra, sementes, ferramentas e tempo. Nada além do essencial. E talvez por isso mesmo ele acerte tão em cheio. Existe algo de muito honesto nesse minimalismo. Tem gente no Reddit que diz que foi “o primeiro jogo de farming que joguei na vida”, ou que “nenhum outro jogo chegou perto da paz que Alice Greenfingers proporcionava”. Muita gente tenta rejogar hoje, mas o bichinho não roda bem em sistemas novos. Uma pena.
Voltar a pensar nesse jogo, tantos anos depois, me faz perceber como algumas experiências simples podem deixar marcas profundas. Eu e minha irmã revezávamos no mouse, decidindo o que plantar, onde colocar os girassóis, se valia a pena arriscar numa árvore frutífera. Era só um passatempo. Mas um dos nossos preferidos. E talvez por isso ele ainda viva na minha memória com tanto carinho. Às vezes tudo o que a gente precisa é isso: um cantinho de terra, um baldinho de água... e aquele barulhinho certo, na hora certa.
Confesso que ainda dá uma vontadinha de jogar.
Para assistir ao vídeo do gameplay completo, é só clicar na imagem abaixo. Por outro lado, se você quiser baixar e jogar, é só clicar aqui.
quinta-feira, 16 de outubro de 2025
Rá-Tim-Bum (1990)
Existem memórias que parecem sonho. Uma delas é o Rá-Tim-Bum original, aquele programa da TV Cultura que nasceu em 1990 e, por quatro anos, reinventou o modo de conversar com as crianças. Quando se fala em “Rá-Tim-Bum” hoje, quase sempre a lembrança corre direto para o castelo – o mais famoso, o mais celebrado, o mais reprisado. Mas antes do castelo existia outro mundo. Um mundo mais simples, mais experimental, que talvez só as crianças dos anos 90 ainda consigam lembrar com nitidez.
Esse primeiro Rá-Tim-Bum não tinha uma história contínua nem personagens fixos. Era uma colagem de pequenos quadros educativos, cada um ensinando algo diferente: como funciona um objeto, como cuidar de si, o sentido das palavras, as curiosidades do mundo. Tinha humor, música, cores exageradas e uma imaginação que não dependia de grandes efeitos. O programa misturava arte e pedagogia com uma atenção artesanal que hoje parece improvável. Tudo era pensado com cuidado, das transições sonoras à escolha das cores. Assistir ao Rá-Tim-Bum era como abrir uma caixa de brinquedos e descobrir que dentro dela cabia o mundo inteiro.
Mas a memória é traiçoeira. Quando o famoso "Castelo Rá-Tim-Bum" estreou em 1994, levou consigo a força simbólica do nome e o transformou em algo maior. O castelo virou fenômeno cultural – nacional e internacional! –, ganhou exposição, produtos, reexibições, e até hoje é reconhecido por quem nem era nascido na época. Já o Rá-Tim-Bum original ficou guardado num canto mais silencioso da história, lembrado apenas por quem viveu aqueles anos de TV aberta educativa. É curioso pensar que o programa que deu origem ao nome acabou ofuscado por quem o herdou. Enquanto o castelo se tornou monumento, o original virou lembrança distante – e talvez aí esteja o seu verdadeiro encanto.
Rever o Rá-Tim-Bum hoje não é apenas relembrar. É enxergar o esmero de uma produção feita com poucos recursos, mas com ambição criativa. É notar o capricho dos figurinos, a inventividade das transições, a coragem de experimentar formatos que nem existiam. E é também encarar o estranho: cortes bruscos, gestos teatrais demais, sons fora de sincronia. Tudo isso compõe uma doçura meio bizarra, um retrato fiel de uma época em que a televisão infantil ainda estava tateando possibilidades.
O Rá-Tim-Bum original nunca quis ser eterno. Era um programa que acreditava, honestamente, que aprender podia ser divertido, e que o saber cabia num quadro de dois minutos. Seu valor agora está na nostalgia – nessa lembrança que surge quando alguém menciona o nome e, de repente, a gente sente o cheiro da tarde, o som da vinheta, a textura das cores. É um fragmento de um Brasil que via futuro na educação e acreditava que imaginação e conhecimento podiam caminhar juntos.
Eu ainda quero escrever sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, claro – ele merece um espaço próprio. Mas antes, é importante lembrar desse Rá-Tim-Bum clássico. Foi ele que plantou a semente. O castelo ergueu as torres, mas o chão veio daqui. E quem teve a sorte de crescer assistindo, mesmo que já nem lembre de tudo, sabe o que ficou: aquele tipo raro de magia que o tempo não apaga, só embaça de leve, para que a gente possa reencontrar com mais ternura.
Abaixo, segue uma lista de links para vídeos de cada um dos quadros que compunham o programa e que entraram para a nostálgica história da TV Brasileira dos anos 1990.
Cadê o Léo? (1989)
“Cadê o Léo, o Léo onde é que está?” A frase parece boba, quase uma cantiga de criança qualquer. Mas quem cresceu nos anos 90 e teve contato com o especial "Um Banho de Aventura" talvez sinta um arrepio involuntário ao ouvir esse verso. Produzido pela TV Cultura e exibido originalmente em 1989, o programa foi concebido como um telefilme infantil, na época sendo exibido em cinco partes ou episódios. Alguns dizem que foi a primeira aparição do Júlio do Cocoricó na TV. A canção-tema era tão marcante que o telefilme ficou popularizado sob o nome "Cadê o Léo?".
Desde os primeiros minutos, Júlio está atrás de Léo, seu leão de pelúcia. Descobre que ele foi mandado pra lavanderia… e sumiu. É aí que algo muda no ar. Conforme Júlio segue as pistas e mergulha nessa busca estranha, a história, que parecia só mais uma aventura infantil, começa a escorregar pra outro lugar. O clima fica esquisito, não abertamente assustador, mas com uma estranheza leve, como se a realidade estivesse desfazendo os contornos aos poucos.
Uma das primeiras coisas que entregava o clima estranho eram os fantoches. Não os bonecos do Cocoricó, que já conhecíamos bem, mas figuras novas, de aparência menos amigável, quase inquietante. Como a idosa de nome alemão impronunciável, Fraulein, que aparece por volta do minuto 9. Ela surge de forma abrupta, com trejeitos rígidos, voz engasgada e um rosto que beira o grotesco. Uma cabeça enorme que parecia ter três queixos. Essa figura, misturada ao cenário artesanal, gerava uma dúvida que não era racional, mas sensorial: isso aqui é pra criança mesmo? Além disso, reassistindo agora já na idade adulta, é fácil perceber que o filme conta com vários momentos de sonoplastia de terror, com sons de fundo que causam calafrios.
Mais de vinte anos depois, o especial é lembrado não pela história em si, mas pela sensação. Uma atmosfera silenciosamente deslocada, que parecia romper alguma expectativa implícita sobre o que era “seguro” num programa infantil. Anos depois, ao reaparecer no YouTube, os comentários se alinharam: “Achei que fosse um delírio coletivo”, “Me dava medo real”, “Essa música me persegue até hoje”. O que ficou não foi saudade, mas uma sensação esquisita que insistia em voltar.
Não era o enredo que inquietava. Nem os personagens, isoladamente. O que marcava era o clima, a ausência de explicações, a sensação de que a história era contada de dentro da mente de uma criança – uma que ainda não distingue direito o que é real, o que é sonho, o que é invenção. A lavanderia vira um portal para a ilha de Melakunka, habitada por criaturas de nomes nonsense como “Pato Que Ri” e “Criatura”. Isso sem falar do pelicano excêntrico, que era piloto de avião. Nada ali se justifica, tudo só acontece. E é justamente por isso que gruda na memória – porque toca o estranho sem anunciar.
Os cenários, feitos com tecidos, caixas e objetos domésticos, reforçam essa ambiguidade. Lembram cabaninhas improvisadas, mas sempre com algo torto, um detalhe fora do lugar, uma sombra a mais. Os bonecos não piscam. Observam. Os espaços parecem feitos para brincar, mas emitem um desconforto surdo, como acordar no próprio quarto e notar que algo está sutilmente errado.
No centro disso tudo, a música. A canção-tema repete o mesmo verso como um mantra girando em círculos: “Cadê o Léo, o Léo onde é que está?” Mas ela não leva a lugar nenhum. Ela só repete. E gruda. Muitos adultos relatam lembrar da música surgindo do nada, anos depois, como um fragmento esquecido que o corpo guardou. Ela não era apenas trilha – era um vínculo invisível entre o que se perdeu e o que nunca se explicou.
A sensação mais profunda é a de perda. Júlio busca algo amado que sumiu sem razão. E quando reencontra… já não é o mesmo. Léo voltou, mas algo se quebrou com a perda, com o luto e com a busca bizarra. Essa virada silenciosa é um luto sem nome, uma ausência disfarçada de final feliz. Uma espécie de aprendizado invisível: o que some pode voltar, mas nem sempre volta igual.
Talvez seja por isso que tantos adultos hoje revisitam o especial com um desconforto que não conseguem traduzir. Não era medo de monstros. Era a percepção, ainda que embrionária, de que o mundo não garante devolução. "Cadê o Léo?" era um ritual disfarçado. Um jeito torto de dizer à infância que existe sombra – e que, um dia, ela chega.
E talvez a coisa mais potente – e mais sutil – seja essa: usar espuma pra falar de perda. Fantoches pra falar de ausência. Canções de roda pra falar de luto. E por isso ficou. Entrou fundo, numa dobra da memória, onde as coisas que doem e encantam moram juntas.
Assistir hoje, com olhos crescidos, é como voltar a um sonho meio apagado. Você reconhece os gestos, os sons, as texturas. Mas agora entende. E aí percebe que a máquina de lavar não era só uma máquina. Era um portal simbólico. O começo. Um aviso mudo de que até o que a gente ama pode desaparecer. E, se voltar… talvez já não caiba mais no mesmo colo.
Então, quando alguém canta “Cadê o Léo…”, não está só evocando uma lembrança de infância. Está, sem perceber, chamando de volta uma parte de si que ainda busca – não um brinquedo, mas o que se perdeu na travessia. E que talvez nunca volte do mesmo jeito.
Se quiser assistir a esse nostálgico e bizarro filme infantil, é só clicar abaixo!
Aqui vão alguns comentários selecionados, retirados do Youtube:
quarta-feira, 8 de outubro de 2025
Mortal Kombat 4 (PS1)
Alguns jogos envelhecem bem. Outros azedam. Mas tem aqueles que desafiam qualquer categoria, como uma fita VHS esquecida no painel de um carro sob o sol: derretida, esquisita, mas ainda brilhando por dentro. Mortal Kombat 4 é um desses. Um jogo que parece ter sido feito sem a menor intenção de durar, e talvez por isso mesmo tenha sobrevivido – não nos rankings, mas em algum canto alternativo da memória.
Nunca joguei MK4 de verdade. Nunca tive o disco, nem o console. O que eu tive foi um amigo – o único com um PS1 à época – e o privilégio de assistir de fora. Sentada no chão da sala dele, pernas cruzadas, cabeça meio torta, via tudo como quem observa uma janela pro futuro. Porque até então minha referência era outra: MK3 Ultimate e suas versões de fliperama, todas ainda grudadas naquela estética 2D, sombria e pixelada, meio teatro de sombras, meio filme de terror. E aí, do nada, aquilo virou outra coisa. Os personagens ganharam volume, mas pareciam modelados em barro seco. Personagens novos que eu nunca tinha visto e cores bem curiosas. Hoje, quando revisito MK4, não vejo só um jogo. Vejo uma cápsula do tempo: tosca, falha, mas vibrando.
MK4 flertou, pela primeira vez na franquia, com o 3D. MK4 foi o primeiro MK a trocar os antigos sprites digitalizados por modelos poligonais, mergulhando de vez numa estética tridimensional. Mas esse 3D não era total: os combates ainda aconteciam em linha reta, com um botão que permitia um leve desvio lateral, mais performático do que prático. Ainda assim, algo mudou. Pela primeira vez, o jogo dava sinais de profundidade: os personagens não pareciam mais colados no fundo, e o espaço entre eles ganhava volume, mesmo que simbólico. Era uma ilusão tátil de avanço, como se o cenário respirasse em uma dimensão um pouco maior que a do 2D puro.
E com isso, veio também uma tentativa de reinventar a própria mitologia da série. Pela primeira vez, o vilão não era um brutamonte qualquer. Era um deus caído. Shinnok trazia uma vilania sofisticada e divina. Era, afinal, uma deidade corrompida, gananciosa e que se achava "por direito" de conquistar tudo. Um ex-Elder God, exilado, ressentido, conspirando em silêncio. Sua presença transformava o jogo numa espécie de drama metafísico. Como se o Mortal Kombat tivesse saído da arena e escorregado pra dentro de um culto.
Mas o eixo narrativo verdadeiro era Quan Chi. Primeiro jogo em que ele aparece jogável, e já parecia maior que a própria tela. Pálido como osso, olhos vermelhos, movimentos secos e elegantes, e aquela aura de quem manipula os fios por trás da cortina. Ele não só libertou Shinnok do Submundo, mas costurou tudo ao redor com astúcia e trapaça. Não era só vilão, era cérebro. Uma espécie de Maquiavel necromante, operando no campo da estratégia. Enquanto os inimigos anteriores eram soco e magia bruta, Quan Chi era diplomacia e ilusão. E esse deslocamento de força pra inteligência mudou o tom inteiro da lore do jogo, ainda que momentaneamente.
Mesmo tropeçando nos aspectos técnicos, MK4 conseguiu montar um panteão que fazia sentido dentro da sua própria estranheza. Mas era um panteão instável, quase improvisado. Os novos personagens surgiam como figuras em busca de um lugar, ideias ainda meio soltas tentando se fixar no caos. Havia algo de inacabado neles – como se tivessem sido esboçados com pressa, sem tempo de descobrir quem realmente eram. Alguns pareciam versões diluídas de arquétipos já conhecidos, repetindo papéis com outros rostos. Outros até traziam certa ousadia, mas não conseguiam escapar da sombra dos veteranos. No fundo, havia no jogo um esforço genuíno de criação e iuovação, mesmo quando tudo ao redor parecia ruir.
Visualmente, o jogo é um espetáculo de imperfeição. Modelos rígidos, texturas com cara de areia molhada, olhos estáticos, bocas que mal se movem. Cores dissonantes que nunca entravam num acordo: laranjas gritavam, verdes quase neon saltavam da tela, e os azuis tinham um gelo que cortava. Não havia suavidade entre os tons, como se cada textura tivesse vindo de um mundo diferente, colada ali no improviso. No fim, tudo formava um mosaico meio torto, mas curioso: uma colagem de estéticas que não combinavam, mas davam ao jogo um charme próprio, estranho e impossível de esquecer. E às vezes me pergunto: será que não é exatamente isso que falta em tantos jogos de hoje? Essa coragem de ser bizarro. De errar o tom. De tentar algo, mesmo que saia torto.
Voltar a MK4 hoje é como abrir uma caixa de sonhos pela metade. Talvez não tenha acertado em quase nada. Mas tentou. Tentou reinventar um universo que já podia estar virando fórmula, tentou expandir o horizonte da franquia com novos mitos, novas texturas, novas intenções. Nos deu Shinnok e Quan Chi, nos deu um léxico novo pra luta. E mesmo eu, que só vi esse jogo com olhos de criança curiosa, sentada ao lado de quem jogava de verdade, fui atravessada por ele de um jeito único, em especial na sua estética e na inovação de introduzir tantos personagens novos.
MK4 não é só um jogo. É uma dobra no tempo. Um espaço intermediário. Um instante esquisito entre o que estava morrendo e o que ainda nem tinha sido inventado. É aquele momento estranho, um glitch, em que o erro vira identidade. A estranheza vira originalidade. E isso, pra mim, sempre vai ter mais valor do que a perfeição.

sexta-feira, 3 de outubro de 2025
Os Padrinhos Mágicos
Se você foi uma criança dos anos 2000, talvez tenha lembranças bem vívidas de chegar da escola, largar a mochila no canto da sala e correr para a TV com um prato de bisnaguinhas com requeijão na mão. Era sagrado. E, ali, entre uma mordida e outra, uma dose diária de caos colorido te esperava: "Os Padrinhos Mágicos". Aquele desenho elétrico, barulhento, cheio de absurdos visuais e narrativos, e que, curiosamente, mesmo com todo o escândalo, carregava uma tristeza difícil de nomear. Era como se aquele menino de boné rosa e seus padrinhos-fada soubessem, em algum nível, que crescer ia doer. E talvez fosse essa a grande mágica do desenho: rir como quem esquece por um instante o peso que carrega nos olhos.
Criado e lançado em 2001, "Os Padrinhos Mágicos" não se pareciam com nada – a não ser com "Danny Phantom", do mesmo criador do desenho, lançado três anos mais tarde. O traço era duro, com cores vivas e personagens que pareciam ter sido desenhados num momento de impulso. Nada ali era polido – e talvez por isso mesmo, tudo era absurdamente vívido. A história girava em torno de Timmy Turner, um menino de 10 anos com pais sempre ocupados demais, uma babá que flertava com o sadismo e um segredo que mudaria tudo: fadas madrinhas que realizavam desejos. O que poderia dar errado? Tudo, claro. Porque Timmy, com seus desejos impensados, vivia provocando desastres cósmicos, invertendo lógicas, bagunçando universos. Mas, entre piadas escrachadas e confusões surreais, o que se revelava era um espelho torto da infância – aquele tempo onde nada fazia sentido, mas tudo era urgente.
Havia um subtexto quase cruel por trás do humor. Os adultos eram caricaturas de inutilidade ou loucura – o pai idiota, a mãe alienada, o professor Crocker obcecado por fadas ao ponto da insanidade. Só restava a Timmy a magia – essa entidade que prometia ordem, mas trazia ainda mais caos. E é curioso como o desenho fazia tudo parecer engraçado, mesmo quando, no fundo, o que estava sendo dito era: crescer é ser ignorado, e sobreviver exige imaginação.
Foi na fase clássica, ali entre 2001 e 2006, que a série brilhou com mais força. Os roteiros eram imprevisíveis, cheios de reviravoltas, e havia sempre uma sombra passando pelas entrelinhas: o medo de ser esquecido, o desejo de ser visto. Cosmo, o idiota adorável; Wanda, a racional sensata; Timmy, o garoto tentando fazer sentido do mundo com um chapéu rosa e uma vara mágica. Era um trio que funcionava porque se equilibrava na corda bamba entre o absurdo e o afeto.
Com o tempo, o desenho cresceu em ambição. Vieram os filmes, os especiais, os episódios duplos, as dimensões paralelas, os crossovers com Jimmy Neutron – a trilogia de filmes "Jimmy e Timmy: O Confronto" (2006). O longa-metragem "A Caçada dos Padrinhos Mágicos" (2006) por exemplo, é uma pérola que talvez só agora, revendo com olhos de adulto, a gente perceba a genialidade. Uma viagem satírica por referências de cultura pop – de "Dragon Ball Z" a "Scooby-Doo" – tudo costurado por um discurso metalinguístico que, de algum modo, conversava com a ansiedade moderna: a necessidade de escapar, de mudar de canal, de estar em todo lugar ao mesmo tempo.
Era um desenho que conseguia ser infantil e sofisticado sem parecer pretensioso. Só que, como tudo que tenta durar demais, a mágica começou a vacilar. A chegada de Poof, o bebê mágico, foi o primeiro sinal de que algo estava mudando. Isso aconteceu logo no início da 6ª temporada, em 2008. A série parecia buscar novos encantos para manter a audiência, mas perdia o coração do absurdo original. Ainda havia bons momentos, claro. Mas tudo era diferente. As mudanças seguintes foram mais bruscas. Em 2013, a entrada da nova personagem, uma tal de Chloe, dividindo os padrinhos com Timmy, não caiu bem. Os fãs não engoliram. O traço se tornou ainda mais saturado, as piadas, menos afiadas. Parecia uma tentativa desesperada de reinventar o que já tinha sido brilhante. O coração do desenho, aquele caos emocional e sensível que batia por baixo da gritaria, foi se apagando aos poucos.
E então veio talvez o episódio mais estranho e dolorosamente maduro da série: “O Pedido Secreto de Timmy!” (2011). Nele, descobrimos que Timmy, sem que ninguém soubesse, havia desejado que o tempo parasse. Ninguém mais envelheceria. Nem ele, nem Cosmo, Wanda, Poof... nem ninguém. Durante 50 anos, o mundo ficou congelado numa infância artificial – uma bolha de negação tão perfeita que ninguém notou. Quando o Conselho das Fadas descobre, Timmy é julgado, e tudo precisa ser corrigido: o tempo volta, todos envelhecem de uma vez, ele perde os padrinhos. Esquece tudo. E talvez o que mais machuque seja isso: ele nem sabe o que perdeu. Não sente falta, não chora por ninguém – só segue, como quem acorda de um sonho e não percebe que algo se perdeu no meio do caminho. A vida volta a andar, e pra ele parece normal. Mas a gente viu. A gente lembra. Sabemos do que ele abriu mão sem saber, e é aí que a coisa aperta – nesse abismo entre o que ele vive e o que a gente não consegue esquecer. É como se, de repente, toda a magia da infância escorregasse pelos dedos, sumindo sem deixar rastros. O que ele queria, no fundo, era continuar criança. O preço foi nem ao menos lembrar que um dia foi. Esse episódio virou uma bomba emocional dentro do fandom. Alguns o consideram brilhante, uma espécie de confissão involuntária sobre o medo de crescer. Outros detestam, por parecer uma tentativa forçada de encerrar a história. Mas, pra mim, é uma pequena obra-prima do incômodo. A mágica sempre teve um preço, e Timmy, como qualquer um de nós, só queria que as coisas não mudassem. O problema é que querer que nada mude também é um tipo de morte. E o desenho entendeu isso melhor do que muita gente grande.
Apesar das mudanças e tropeços, há momentos icônicos que ficaram gravados na memória com tinta permanente. O episódio em que Timmy navega pela internet como se estivesse surfando em uma autoestrada de dados (2x23) é puro suco dos anos 2000. Os crossovers com Jimmy Neutron, mesmo com aquele 3D esquisito que deixava Cosmo com cara de brinquedo derretido, tinham um charme nostálgico impossível de replicar. Há algo de muito verdadeiro nesse eco. Porque o desenho, mesmo nos seus momentos mais ridículos, sabia tocar em nervos que não se curam com o tempo.
E talvez seja por isso que "Os Padrinhos Mágicos" ainda ressoem tanto. Porque eles não eram só sobre desejos, varinhas ou peixes-dourados no aquário. Eram sobre a sensação de não caber no mundo. Sobre querer desaparecer e, ao mesmo tempo, desesperadamente, ser encontrado. Eram uma linguagem secreta para crianças que se sentiam deslocadas. Uma forma de dizer “me escuta” sem precisar gritar. E hoje, olhando pra trás, eu entendo: todos nós já fomos Timmy Turner por alguns instantes. Já quisemos congelar o tempo, manter aquilo que amamos do jeitinho que estava. Mas a vida, diferente dos desenhos, não deixa a mágica durar pra sempre. E, tudo bem. Porque às vezes o que fica, mesmo quando tudo se apaga, é o que aprendemos entre um desejo e outro.
Se eu tivesse um único desejo, talvez escolheria voltar a ser criança, de volta à época em que a única preocupação era não perder aos melhores episódios dos meus desenhos favoritos na TV! E o seu, qual seria?
terça-feira, 3 de junho de 2025
The Sims 1 Makin' Magic
Nós já falamos aqui neste blog, extensamente até, sobre o inesquecível The Sims 1. Agora, no entanto, vamos nos aprofundar e falar da expansão mais especial dessa relíquia digital. Aquela que abriu as portas da magia, não só para o primeiro jogo da franquia, como para todos os que vieram depois.
Eu lembro exatamente de quando encontrei aquele portal escondido no fundo do quintal. Magic Town não era só um novo bairro no jogo – era como descobrir que a realidade tinha frestas. Um lugar empoeirado e estranho, onde tudo parecia meio torto, mas acolhedor, como um circo esquecido que resolveu fincar raízes e não ir embora. O tipo de coisa que a gente não espera, mas também não consegue mais largar.
O que Makin’ Magic fez foi pegar o cotidiano já esquisito do The Sims 1 e temperá-lo com uma magia que não grita. Ela sussurra. Em vez de transformar tudo num carnaval de efeitos, a expansão se infiltra devagar na vida dos Sims. O encantamento está nas brechas – na loja da esquina, no objeto herdado da avó, na quitanda que vende ingredientes improváveis. É como se a realidade do jogo tivesse levado um susto... e decidido continuar como se nada tivesse acontecido.
A ambientação acerta em cheio. As tendas desbotadas, as barracas de madeira, as texturas que parecem ter sido pintadas à mão – tudo remete a uma nostalgia que nunca vivemos, mas que sentimos mesmo assim. Há algo de retrô, mas sem saudosismo. Como se o tempo ali fosse um pouco mais lento, mais denso. E no meio disso tudo, está ela: Ossilda. A empregada esquelética que sai de um caixão de madeira pra cozinhar, limpar e alimentar bebês sem nem piscar – ou melhor, sem nem ter pálpebras. Ela não precisa dizer nada pra ser inesquecível. Está ali, entre o grotesco e o familiar, como tudo nessa expansão.
A trilha sonora, absolutamente única, também não segue o caminho óbvio. Ao invés de músicas novas, a Maxis reaproveitou faixas de álbuns obscuros, com aquele ar de teatro de rua, realejo desafinado e nostalgia levemente melancólica. É o tipo de som que não se impõe, mas toma conta. Dá a sensação de que algo está prestes a acontecer – algo mágico e estranho. E você nem precisa entender o quê.
O que mais fica, pra mim, é o clima suspenso que essa expansão conseguiu criar. Não é sobre o outono literal, nem sobre Halloween importado. É mais uma sensação – como se o tempo tivesse parado num ponto exato entre o dia e a noite. Um crepúsculo duradouro, onde as coisas comuns parecem carregar segredos. Makin’ Magic criou um mundo em que a fantasia não é fuga, mas extensão. Onde o absurdo se acomoda ao lado do trivial sem pedir licença.
Talvez seja por isso que essa expansão deixou uma marca tão viva. Não apenas pelo que acrescentou em mecânicas, mas pelo que despertou na nossa imaginação. Ela abriu uma fresta que a gente não sabia que existia. E por essa fresta, entrou um mundo estranho, mágico e um pouco empoeirado – que, de algum jeito, parecia feito sob medida pra quem sempre sentiu que o real precisava de um toque a mais.
terça-feira, 1 de abril de 2025
The Sims 3
Imaginem vocês: após a grande reviravolta da liberdade 3D de ângulo e profundidade trazida por The Sims 2, recebemos, em 2009, mais um salto gigantesco para a franquia: o aclamado The Sims 3, que introduziu, pela primeira vez, o tão sonhado mundo aberto e um sistema de personalização praticamente infinito. Pela primeira vez, os jogadores podiam pintar móveis, paredes e roupas nos mínimos detalhes, transformando cada elemento do jogo em algo verdadeiramente único. De repente, não existiam mais telas de carregamento entre os lotes. A cidade passou a ser um organismo vivo, dinâmico, onde tudo fluía de maneira ampla e natural. A sensação de liberdade era revolucionária.
Claro, essa grandiosidade tinha um preço. O mundo aberto, por mais impressionante que fosse, vinha acompanhado de desafios técnicos. Em computadores mais modestos, o jogo não tardava a apresentar travamentos, e, mesmo em máquinas potentes, o desempenho oscilava de forma imprevisível. Bugs, Sims presos em loops estranhos, vizinhanças que paravam de progredir… Nada disso era incomum. Ainda assim, The Sims 3 brilhava em seu propósito: transformar a cidade inteira em um cenário interativo, onde a vida acontecia sem restrições visíveis. Mas, para isso, era (e continua sendo) necessário uma placa de vídeo que "aguente o tranco".
A minha parte favorita do jogo, sem sombra de dúvidas, é a ferramenta “Criar um Estilo”. Essa funcionalidade trouxe, pela pela primeira e última vez na franquia, a verdadeira personalização sem limites, permitindo aplicar cores, texturas e padrões únicos em praticamente tudo: roupas, cabelos, móveis e até mesmo pequenos objetos decorativos. Com a querida color wheel, era possível escolher e combinar cores com precisão artística, criando ambientes e personagens que refletiam perfeitamente a visão e a intenção de cada jogador. Para quem, como eu, sempre encontrou em The Sims o maior prazer justamente no ato de construir e decorar, essa função permanece, até hoje, imbatível e incomparável. Nesse aspecto, nenhum outro jogo da franquia conseguiu superar The Sims 3. E é por isso que, até hoje, sempre volto a ele para construir e decorar.
Se a base do jogo já era rica, os pacotes de expansões trouxeram camadas ainda mais profundas de possibilidades. World Adventures permitia explorar tumbas e viajar pelo mundo, Ambitions expandia carreiras interativas, Late Night adicionava o glamour da vida noturna, e Generations dava uma atenção especial ao desenvolvimento familiar. E isso foi só a primeira leva. Seasons, Pets, Supernatural… Cada expansão ampliava o escopo do jogo, tornando o universo dos Sims ainda mais vivo e dinâmico. Tratava-se de um jogo que não se limitava a simular o dia a dia; ele permitia criar histórias ricas em detalhes, vivenciar realidades alternativas e, principalmente, dar vida às narrativas mais improváveis.
Se comparado a The Sims 4 – que, convenhamos, é um jogo fragmentado, dependente de incontáveis pacotes adicionais para se tornar minimamente completo – The Sims 3 ainda se destaca por ter chegado “pronto”, com uma base sólida que já oferecia um mundo dinâmico e cheio de possibilidades desde o primeiro instante. Você não precisava investir em dezenas de expansões só para sentir que algo realmente acontecia na sua vizinhança.
Na verdade, em quase todos os aspectos, The Sims 3 supera infinitamente seu sucessor, o trágico The Sims 4. Não apenas pelo sistema de personalização incomparável graças à color wheel – que, como já disse, é absolutamente insuperável – mas também por entregar um mundo aberto autêntico, detalhado e repleto de vida. Visualmente, essa diferença de proposta também se destaca. Enquanto The Sims 3 apostava em uma estética mais realista, com tons sóbrios e texturas detalhadas que reforçavam a imersão no cotidiano virtual, The Sims 4 optou por um estilo cartunesco, com cores vibrantes, traços simplificados e uma aparência mais polida, muito menos realista. Essa escolha visual, embora contribua para uma performance mais fluida e acessível ao grande público, comprometeu grande parte da profundidade e verossimilhança que tornam The Sims 3 tão envolvente. Havia uma ambição estética clara que The Sims 4 deliberadamente abandonou, tendo este se revelado um retrocesso óbvio, simplificando quase tudo por conveniência técnica e comercial. Aspectos essenciais, e até mesmo pequenos detalhes do cotidiano, foram reduzidos ou removidos completamente, transformando o jogo em algo limitado e infantilizado, claramente pensado para gerar lucro com expansões intermináveis. Não há dúvidas: The Sims 3 continua sendo infinitamente superior.
No entanto, por mais que tenha revolucionado a jogabilidade, eu não pude deixar de carregar comigo a nostalgia e a profundidade emocional de The Sims 2, que já analisamos aqui no blog. O mundo aberto em The Sims 3 era fascinante: um simples passeio ao parque ao pôr do sol ou uma ida despreocupada à cafeteria tornavam-se pequenos eventos dentro do cotidiano virtual. Tudo parecia mais vivo, espontâneo, menos enclausurado. Ainda assim, havia algo intangível, indizível, inexplicável que se perdeu na transição entre as gerações. Para quem se encantou com o peso narrativo e emocional de The Sims 2, fica sempre a impressão de que, por mais vasto que fosse, The Sims 3 nunca conseguiu capturar aquela mesma magia indescritível de seus dois antecessores. Nem mesmo a trilha sonora chega aos pés da trilha de The Sims 1 de The Sims 2.
Mas isso não significa que lhe falte brilho próprio. Como já dito, o jogo trouxe uma revolução à franquia e entregou uma experiência expansiva, personalizada e aberta como nenhum outro. A liberdade de exploração, a ausência de telas de carregamento, a sensação de que tudo estava interligado… Esses elementos criaram um senso de imersão único, que ainda hoje, mais de 16 anos depois, continua atraindo uma comunidade apaixonada. Desenvolvedores de mods seguem aprimorando o jogo, otimizando seu desempenho e expandindo suas possibilidades – garantindo que ele jamais seja esquecido.
Se eu tivesse que definir The Sims 3 em uma frase, diria que ele é o “sonho do mundo aberto” realizado dentro do universo dos Sims. Ambicioso, imperfeito, mas inesquecível. Para quem busca liberdade de criação, cenários deslumbrantes a um clique de distância e a chance de construir e decorar sem barreiras, ele continua sendo uma opção irresistível. E, por mais que os anos passem, sempre haverá algo de mágico em voltar para suas cidades e se perder, mais uma vez, nas infinitas possibilidades que ele oferece.